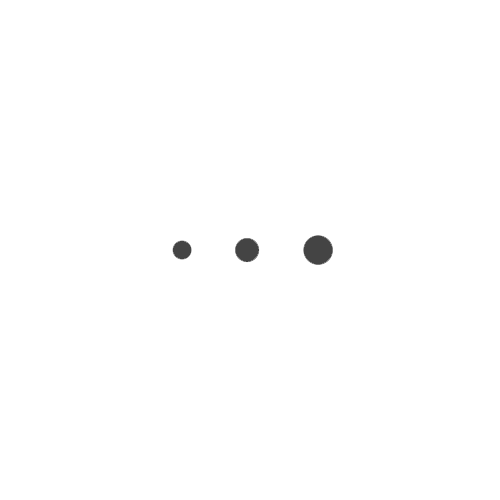Tales Castelo Branco
Depois da desgraça, subsiste sempre alguma graça
Em 1968, nas antevésperas do Ato Institucional no 5 , a caça às bruxas marchava em todas as direções, inclusive prendendo artistas e intelectuais. Numa tarde desses dias tormentosos, quando ia para o escritório, retornando do fórum, ouvi, pelo rádio do carro, que Gilberto Gil e Caetano Veloso haviam sido presos. Ao chegar, atendi ao telefone que me chamava. Era alguém do Teatro Oficina, dizendo-me que o José Celso Martinez Correa pedira para avisar-me que havia sido intimado para ir ao DOPS (Departamento de Ordem Política e Social), às 17 horas, e que me encontraria lá. Olhei para o relógio. Eram 16h50. Perguntei ao interlocutor pelo Zé Celso, e a resposta veio bater no meu ouvido como um jato fino de água fria: “Ele já saiu, espera o senhor lá, às cinco horas. Tá?” “Tá”, respondi, tentando recomporme do susto, e desliguei o telefone.
Corri para o casarão do Largo General Osório, que, após o golpe militar, foi transformado num depósito de presos políticos e numa das sedes oficiais da tortura generalizada, que grassava contra os opositores do regime da força. Identifiquei-me, à porta, e subi correndo as escadarias das suas dependências. Passei os olhos pelo salão. Antes de enxergar o Zé Celso, sentado a um canto, ele veio cumprimentar-me, calmamente, perguntando se ia demorar para ir embora.
Antes de responder-lhe, um investigador de Polícia, meu velho conhecido e devedor de alguns pequenos favores, puxou-me pelo braço e perguntou baixinho: “Esse aí é o moço do teatro?” Respondi que sim. “Então, doutor, manda ele embora (sic)”. “Por quê?” retruquei, para confirmar a minha desconfiança. A resposta veio curta e grossa: “Se ele ficar, vai dançar.” Voltei-me para o Zé Celso e cochichei ao seu ouvido, apontando-lhe a porta salvadora: “Vá embora, Zé. Depois me telefone. Não vá para o teatro. Nos falamos depois.”
Fiquei no DOPS e justifiquei a ausência do Zé Celso ao Delegado Fleury: “Ele está viajando. Quando retornar, eu o apresento.” A resposta veio perpassada de um certo sarcasmo: “Não se preocupe, doutor. Quando eu precisar dele, eu mesmo vou buscálo. Sei onde encontrá-lo.” Sugeri ao Zé Celso que deixasse de ir ao Teatro Oficina por uns tempos, mas ele rejeitou a ideia com firmeza: “Não posso. Estamos nos últimos ensaios de Galileu Galilei. Nem que eu morra ou seja preso, a peça vai para o palco.” Não contestei. Traçamos alguns planos para garantir a segurança de sua liberdade. Horários dos ensaios foram mudados. Olheiros postos nas esquinas do teatro. A polícia esteve por lá, várias vezes, nos horários convencionais, mas nada de Zé Celso. Sempre a mesma resposta: “O Zé Celso está viajando. Infelizmente, ele é assim mesmo. Às vezes desaparece.”
Alguns dias depois, coincidentemente, no dia 13 de dezembro de 1968, data da proclamação do AI 5, a peça Galileu Galilei, de Bertolt Brecht, dirigida por José Celso Martinez Corrêa, estrearia no Teatro Oficina – tudo por obra e graça de um bom conselho, obedecido à risca pela obstinação teatral do Zé Celso. Só iria ser preso em 1974, mas essa é outra história.
Se a porta da rua – ou melhor, a porta de saída do DOPS – salvou, pelo menos temporariamente, o Zé Celso, com Lina Bardi ocorreria exatamente o contrário. No auge da repressão, ela estava na Itália visitando a mãe, quando foi decretada sua prisão preventiva, sob a acusação de haver participado de inúmeras reuniões subversivas em sua casa, no Morumbi. Procurado por seu marido, o Professor Pietro Maria Bardi, na época diretor do MASP, fui examinar o processo. Eram muitos e muitos volumes e apensos. Após dois dias inteiros de leitura dos autos, tudo que encontrei contra a talentosa arquiteta foram reiteradas afirmações de que uma determinada organização de esquerda havia promovido uma reunião em sua casa. Isso mesmo: uma reunião! Assim mesmo, enquanto a reunião transcorria, Lina trabalhava em sua prancheta criativa de arquiteta. Concluí que o melhor seria aconselhá-la a retornar ao Brasil e apresentá-la, espontaneamente, à Auditoria Militar, no dia já designado para o interrogatório. O Professor Bardi deu-me carta branca. Pedi-lhe cautela e discrição quanto ao retorno de Lina. No dia combinado para a chegada silenciosa, lá fomos nós dois para o aeroporto, em Campinas, aguardar a chegada do vôo da Alitalia. Pontualmente, a majestosa aeronave deslizou sobre uma das pistas do Aeroporto Internacional de Viracopos. As portas se abriram e os passageiros começaram a sair. O tempo ia passando, passando e Lina não aparecia no topo da escada do avião. De repente, ouvimos a batida cadenciada de coturnos militares em marcha. Era um pelotão de soldados da Polícia do Exército, a tradicional PE. Marchava vitoriosamente em direção ao avião. Um friozinho gelado percorreu o meu corpo. O Professor Bardi apertou o meu braço, interpelando-me com os olhos. Rapidamente, desliguei os fios condutores do medo e apelei para a razão. Pensei e respondi para nós dois o que me parecia lógico: “Fique tranquilo, Professor, a Lina não é tão perigosa assim.” Antes de terminar a frase, a soldadesca, marchando com garbo, havia dado meia-volta. Fora apenas um grande susto e nada mais. No dia do interrogatório, Lina comportou-se com altivez e dignidade. Tudo deu certo. A prisão foi revogada, naquele mesmo dia, e, no final do processo, foi absolvida. Muito tempo depois, a seu convite, almoçando em sua casa, com ela e Oscar Niemayer, contei-lhes esse “segredo profissional”. Foi um ótimo pretexto para boas risadas e muitas considerações filosóficas sobre a inconveniência do medo desnecessário.

Se para o Zé Celso foi importante ir embora. Se para a Lina Bardi foi importante voltar. Com o engenheiro Ricardo Zarattini Filho, o importante seria encontrá-lo. Tudo começou num daqueles dias intranquilos de repressão. Nunca sabíamos o que iria acontecer no dia seguinte. Nesse clima aflitivo, recebi a notícia de que Zarattini havia sido preso em Recife. Os antigos companheiros do Partido Socialista Brasileiro e da UEE (União Estadual dos Estudantes) incumbiram-me de procurar sua família e colocarme à sua disposição para defendê-lo. Naquela mesma noite, fui à casa dos seus pais, Dona Anita e Seu Ricardo, na Rua Avanhandava. Lá estava seu irmão, Carlos Zara. Resolvemos viajar no outro dia para Recife. Os dias eram amargos e difíceis para exercer a defesa dos presos políticos. Não havia habeas corpus, apagado da Constituição pelo AI-5. A pretexto de que os presos políticos só podiam ser visitados com autorização expressa das autoridades militares, as portas dos quartéis e dos presídios políticos não se abriam com facilidade. Durante o voo, pusme a matutar como iria conseguir entrevistar-me rapidamente com Zarattini.
Estrategicamente, não havia tempo a perder. Expus ao Carlos Zara a minha ideia. Procurei fazê-lo com brevidade, método e clareza. O Zara não era apenas um ator famoso da Globo. Como o irmão Ricardo, ele também era formado em Engenharia Civil pela Politécnica. Nessas horas de planejamento e reflexão, mostrava-se metódico e arguto. Apresentei-lhe o plano. Ele iria, tão logo chegássemos a Recife, ao quartel, tentar ver o irmão. Iria sozinho. Teria que fazer as vezes de um verdadeiro Embaixador em tempos de guerra, com a missão do meu encontro com o mano. Foi assim que ele fez. Ao cair da tarde, voltou com o resultado da missão: a “barra estaria limpa” no outro dia, por volta do meio-dia. Havia falado com o jovem Comandante do Quartel, que era seu fã. Ele, Zara, deveria voltar para São Paulo, para não chamar muito a atenção. Eu, no dia seguinte, veria Ricardo. Mas era preciso aparecer sem pinta de advogado. Deveria comprar um chapéu de feltro, dispensar o paletó e a gravata e apresentar-me como empreiteiro de obras à sentinela do quartel. O resto seria por conta do Comandante. Era um “cara gente boa”, segundo Carlos Zara. No outro dia cedinho, comprei, numa casa de usados, o chapéu mais barato de Recife – preto e de feltro. Arregacei as mangas da camisa branca e lá fui, com ares de empreiteiro de obras, para o quartel, sob um sol pernambucano de 40 graus. Por um momento perguntei-me: “e se for uma cilada?” Respondi ao temor com uma atitude prática: peguei a carteira da OAB, que ia deixando no hotel, e coloquei-a no bolso traseiro da calça. Estava preparado para tudo. Mal vestido ou não, com chapéu ou não, eu era advogado e estava ali como advogado do Ricardo. Não sei se me comportei como um bom ator, mas o primeiro ato de um longo drama, que viria depois, terminou com êxito.
Essas histórias, recolhidas da memória profissional, foram escritas para homenagear a todos os brasileiros e brasileiras que não se curvaram ao jugo da ditadura militar. Aos que foram perseguidos, exilados, presos, banidos, torturados e mortos. Aos que pegaram em armas, aos que escreveram e protestaram, aos que homiziaram companheiros, aos que falaram corajosamente na defesa desses heróis, perante as Auditorias e os Tribunais Militares. É, também, uma homenagem muito merecida ao ex-Vereador e atual Deputado Federal José Mentor, que não quer apagar das páginas da nossa história a certeza de que o povo brasileiro sabe lutar e morrer pela liberdade.
Tales Castelo Branco é Advogado Criminalista, Membro da Comissão da Verdade da OAB/SP, foi Vice- Presidente Nacional da OAB, Conselheiro Federal da OAB por dois mandatos, Diretor do Departamento Cultural da OAB/SP por dez anos, Conselheiro da OAB/SP por quatro mandatos, Presidente do Conselho Curador e Professor da Escola Superior de Advocacia, Presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo.
Reprodução/Livro: ” Coragem – A Advocacia Criminal nos Anos de Chumbo “, Iniciativa: OAB e OABSP, Organização: José Mentor, Março, 2014
Conheça mais advogados