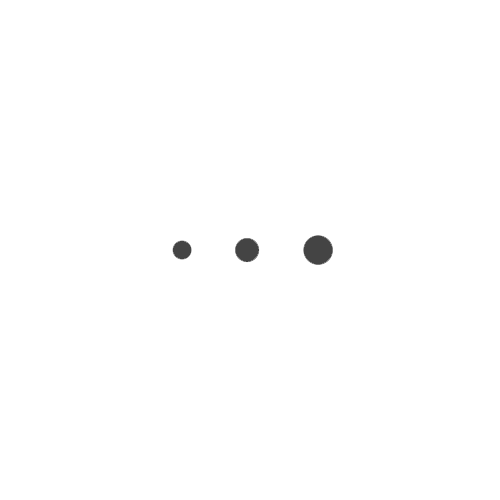Maria Luiza Flores da Cunha Pairava Bierrenbach
Pairava o medo
Pertenço a uma geração que acreditou em novos valores e novas formas de relações sociais, assumindo o compromisso do engajamento político, visando a mudanças estruturais que tivessem por objetivo o bem comum. O projeto era essencialmente coletivo e a prática individualista não contava.
Foi nesse contexto que muitos se mobilizaram e se lançaram contra a ditadura militar, então vigente no país, lutando conta o arbítrio e contra o aniquilamento da consciência crítica. Procuravase vencer a ideologia dominante por meio do esclarecimento da realidade à população alijada do processo político e por ações que redundassem no enfraquecimento do sistema.
O governo militar cerceou as liberdades civis, perseguiu com violência seus opositores, torturou, violentou, matou, criou uma legião de “desaparecidos” e de insepultos. Aqueles que sobreviveram às prisões e torturas foram processados e julgados perante tribunais militares, à luz de uma legislação de exceção, onde os direitos e garantias individuais estavam postergados.
Em São Paulo, um grupo pequeno de advogados, entre dez e vinte, não mais que isso, dedicou-se de forma não eventual à causa de defender os presos políticos. Acreditava-se que essa era uma forma de participação política e de contribuição na luta de resistência ao regime militar. Embora atuando estritamente dentro dos limites legais, esses advogados também sofreram repressão: alguns foram presos e até mesmo torturados.
A ditadura intimidava a todos, espalhava o medo. Qualquer atividade do cidadão poderia ser considerada como atentatória à “segurança nacional” e suficiente para atirá-lo ao domínio absoluto dos órgãos investigatórios, afastadas as garantias fundamentais.
Pairava o medo.
 Recordo-me de um episódio bem ilustrativo. Certo fim de tarde do mês de dezembro de 1970 ou janeiro de 1971, dirigi-me ao Presídio Tiradentes para visitar clientes da ala feminina, como costumava fazer uma vez por semana.
Recordo-me de um episódio bem ilustrativo. Certo fim de tarde do mês de dezembro de 1970 ou janeiro de 1971, dirigi-me ao Presídio Tiradentes para visitar clientes da ala feminina, como costumava fazer uma vez por semana.
Lá chegando, na portaria, uma policial-militar indagou se eu estava de carro e me pediu que conduzisse, a um pronto-socorro ou hospital, a filha de uma presa, de mais ou menos dois meses de idade, que visivelmente estava mal de saúde. Já haviam tentado um contato com a Auditoria Militar para solicitar uma viatura, mas a repartição já estava fechada. Da mesma forma, não haviam logrado localizar os advogados da mãe, e seus familiares também estavam presos. Prontifiquei-me a levá-las, desde que fôssemos acompanhadas por uma policial-militar, procurando resguardar, assim, não só a vida de ambas, como a minha, pois correríamos o risco de sermos metralhadas no trajeto, sob a justificativa de que a presa estaria fugindo com minha ajuda.
Criou-se o impasse. As policiais não poderiam deixar o posto sem autorização superior. Como mantive a condição, considerando a emergência, uma delas resolveu nos acompanhar, sob o compromisso das demais de que os superiores não seriam informados a respeito.
Saímos do presídio, a presa, o bebê, a policial e eu. Fomos à Santa Casa. Desceu a policial para expor a situação e voltou com a informação de que não seria possível o atendimento, face à circunstância de a paciente ser oriunda de presídio político, sem que portasse qualquer encaminhamento oficial. Seguimos para o Hospital São Paulo. Desta vez desceram as três e permaneci sozinha no carro, aguardando por mais de uma hora. Quando retornaram, a criança estava bem melhor, pois, diagnosticada desidratação, já havia tomado soro e trazia frascos de medicação para uso oral.
Passava das 21 horas quando chegamos de volta ao Presídio Tiradentes. As funcionárias, policiais femininas, nos aguardavam assustadíssimas. Pediram-me que nada contasse na Auditoria, pois também temiam pelo que pudesse lhes acontecer por terem permitido a saída da presa política e do bebê. Sabiam que atos humanitários não faziam parte do repertório dos detentores do poder.
A menina ainda não tinha nome. Hoje chama-se Eduarda Leite e está com mais de quarenta anos de idade. Sua mãe era Denize Crispim e o pai, Eduardo Leite, o “Bacuri”, que já havia sido morto na tortura.
Os tempos mudaram.
Se o medo, é verdade, não é mais o sentimento predominante, se o regime não é mais o mesmo daqueles nefastos dias de ditadura, louvando-se aqui os recentíssimos avanços nas políticas sociais, não menos verdade é que estas conquistas democráticas ainda não se consolidaram plenamente.
A impunidade dos agentes da ditadura que torturaram e assassinaram, a falta de aprimoramento das instituições políticas, a violência contra as minorias, contra os pobres, contra as crianças e adolescentes marginalizados, o recrudescimento da brutalidade da polícia nos Estados, a falta de ética na prática pública estão aí para demonstrar que ainda se tem muito por conquistar, que a batalha ainda não foi totalmente vencida.
Nessa caminhada, prosseguimos acreditando na construção de uma sociedade mais igualitária e solidária, onde todos possam ser protagonistas de sua própria história, reafirmando o compromisso com a Justiça e a crença nos Direitos Humanos.
Maria Luiza Flores da Cunha Bierrenbach é Advogada, Membro da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, da Comissão de Indenização aos ex-Presos Políticos do Estado de São Paulo, Procuradora do Estado aposentada.
Reprodução/Livro: ” Coragem – A Advocacia Criminal nos Anos de Chumbo “, Iniciativa: OAB e OABSP, Organização: José Mentor, Março, 2014
Conheça mais advogados